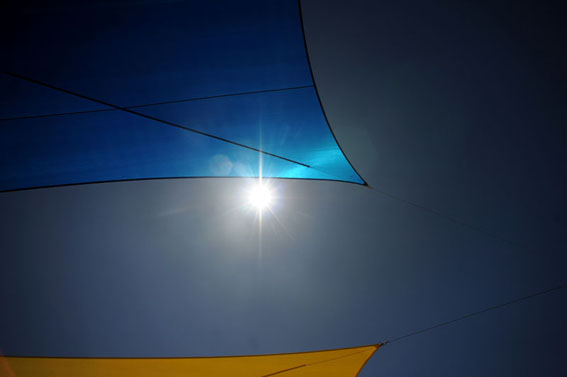Para falar verdade, talvez estejamos todos mortos.
E não pagámos nós as contas, a renda, o telefone, a contribuição autárquica, o selo do carro e a tv cabo? E não pagámos nós as propinas do bacharel, da licenciatura, do mestrado, do curso de inglês, da ginástica e da pós-graduação em gestão, talvez, para estarmos aqui na fila do centro de (des)emprego? Pagamos agora por tudo o que não temos, chicote de culpa no cachaço. Sim, migramos de ponte em ponte até conseguirmos passar para o outro lado, para os vadios campos de esperança por colher. Como manda a tradição, seriam verdes, de um verde maduro, pronto a ser ceifado. Juntos formaríamos uma colecta para angariar fundos para, juntos, colher os frutos do verde espigo. Mas no estio, o verde estava já queimado pelo fogo posto da insolvência. O campo ulula agora, como um fado vadio, contra o dourado dos seus cereais – amarelecidos pela queimada violenta dos últimos verões, casas, famílias, triciclos despedaçados pelas ingovernáveis labaredas do nosso descontentamento. E ainda não tínhamos chegado ao Inverno.

No Outono, cobertores às riscas saíam do armário – a caixa vazia, à direita – prontos a aquecer os pés frios de Novembro, porque o gás já fora cortado: mais uma conta no banco abaixo de zero. O juro a pingar, a pingar, todos os meses, ia jurar que era a chuva, um ruído ensurdecedor. Primeiro, pôs-se um balde, mas como ainda não tinha água suficiente para fazer pim, fazia poc-poc-poc contra o plástico. Depois, considerou-se que o cartão era mais resistente. Talvez até mais quente. Mas como não era de crédito, ficou empapado. Lentamente a água desfez o cartão. Apodrecemos todos, juntos, debaixo da ponte.



No Inverno, já não estávamos descontentes. Talvez ainda estivéssemos com a esperança (verde) na Primavera, de olhos postos no outro lado da ponte, mas muitos meses tínhamos ainda pela frente, muitas noites de granizo e ventania, muitos cartões por dobrar, muitas moradas por habitar, muitas laranjas prontas a desistir de um futuro de sumo no algarvio chão de Fevereiro. No Inverno, todos os dias eram iguais a ontem, sonhava-se com os morangos de Maio (maduro), pequenos e doces, sumarentos como as laranjas que não comemos. Sonhava-se com as amoras (en)colhidas, uma a uma, pelo bosque – tanta amora perdida para aí, em Agosto, dedais de contas pretas que ficaram por colher. Talvez por isso agora não tenhamos onde amurar, murados que estamos aqui, entre os pilares estreitos do viaduto de Gonçalo Cristóvão, colombo de amoras silvestres. Onde amoras?, perguntavam-se, para responder mais tarde, amor(as) onde quiseres, amor(as) é sempre que quiseres. Amor(a) é um par de botas pretas e uma vida contada em três sacos de plástico. Não é o passado nem o presente de alguns. Para muitos, este é o nosso futuro, de olhos postos no outro lado da ponte. Talvez um dia, passaremos. Futuro-sem emos somos.
M.D., Porto, 23 de Julho 2009